
Foto de Quaritsch Photography no Unsplash.
Leslie Salzinger é professora na cadeira de gênero e estudos das mulheres na Universidade da Califórnia Berkeley. Em 2021, publicou “Seeing with the Pandemic: Social Reproduction in the Spotlight” na revista Feminist Studies 47(3), que trazemos traduzido aqui em duas partes. A primeira nesta publicação e a segunda na próxima. Nesta parte do texto, Salzinger faz uma retomada histórica das discussões em torno do papel do trabalho reprodutivo no capitalismo, desde os anos 1970 até o período contemporâneo.
Agradecemos à Feminist Studies e à autora Lelis Salzinger por autorizarem essa tradução ao público brasileiro. A tradução é de Daniela Costanzo e a revisão é de Larissa Vannucci.
Vendo por meio da pandemia: a reprodução social no holofote (I)
Leslie Salzinger
A pandemia de covid-19 inverteu a visibilidade normal do capitalismo, trazendo à tona o que estava nas sombras e colocando em relevo o trabalho da reprodução social. Décadas de governança neoliberal sucatearam o suporte do Estado para o trabalho de cuidado e aumentaram a pressão sobre as famílias nas quais todos os adultos trabalham por salários. Em resposta a isso, o trabalho reprodutivo tem sido mercantilizado e racializado em escala e aqueles que cuidam e mantêm outras pessoas, sejam remunerados ou não, estão segurando a barra para a sociedade como um todo. A incursão do vírus lançou uma desagradável luz sobre esse não-sistema. Do New York Times ao Twitter e às filas de supermercados, tanto os especialistas quanto os cidadãos começaram a observar o trabalho necessário para fazer e sustentar a vida humana, bem como a falta de liberdade daqueles que realizam esse trabalho. Mas mesmo com o possível reconhecimento, os profissionais de cuidados reprodutivos estão cada vez mais se posicionando para dizer que os aplausos não são suficientes.1
Esse reconhecimento público emergente vem na esteira de um extenso repensar acadêmico sobre o capitalismo, já que um crescente grupo de acadêmicos vem debatendo que o capitalismo está sempre cravado em relações generificadas e racializadas de extração e expropriação.2 Especialmente motivador tem sido o notável relato histórico de Karl Marx sobre as origens do capitalismo em um processo que ele chamou de “acumulação primitiva”.3 Na intenção de evitar justificativas moralistas para as origens do sistema, Marx argumentou que as elites utilizaram uma combinação de expropriação de terra e policiamento violento da vadiagem para produzir o capital inicial e o “trabalho livre” necessários para dar vida a esse sistema.
Desde Rosa Luxemburgo, os acadêmicos expandiram esse relato para desafiar as formulações mais abstratas e teleológicas contidas em outras partes da obra maior de Marx.4 Ao invés de ver a acumulação primitiva focada exclusivamente em processos domésticos e relações de propriedade, os teóricos subsequentes apontaram para os processos transnacionais, racializados, coloniais e generificados que caracterizam essa emergência, juntamente com a persistência desses processos supostamente limitados no tempo ao longo da existência do capitalismo.5 Impulsionado pelas profundas desigualdades do neoliberalismo, David Harvey tem argumentado que o presente, de fato, é melhor entendido como um novo episódio da acumulação primitiva, a qual ele nomeia de “acumulação por despossessão”.6 Essas releituras históricas sugerem que relações de propriedade nacional nunca esgotaram a gama de relações de poder sob o capitalismo e que as relações entre o capital e outras estruturas de poder são historicamente contingentes. Apesar das formulações mais elegantes de Marx, a exploração operou desde o início em um leito de relações racializadas, coloniais e generificadas, que foram elas mesmas reconfiguradas, solidificadas e sustentadas por essas interações.
Essa compreensão distinta do capitalismo como um sistema lança uma nova luz sobre o presente. Argumentarei aqui que a reprodução social constitutivamente generificada e racializada é uma arena na qual a acumulação primitiva continua a operar dentro do capitalismo como um elemento estrutural fundamental do próprio sistema. A produção de pessoas é uma arena de trabalho vital não remunerado, mal remunerado e formalmente não reconhecido que torna todo o resto possível. É esse terreno da acumulação primitiva, subitamente sob uma ameaça tão profunda durante a pandemia, que a covid-19 torna flagrantemente visível.
O termo reprodução social apareceu pela primeira vez nas décadas de 1970 e 1980 nos escritos das teóricas dos salários para o trabalho doméstico e do feminismo marxista.7 Focadas no trabalho necessário para produzir e reproduzir pessoas, “trabalho reprodutivo”, essas teóricas da reprodução social localizaram uma dinâmica essencial da acumulação capitalista na produção e não na exploração da força de trabalho. Na medida em que o capitalismo depende da produção não apenas de coisas, mas também de pessoas que fazem essas coisas, elas argumentaram que o aparato generificado e racializado da reprodução é uma parte fundamental do que torna a exploração possível. Sob o capitalismo, esse trabalho geralmente é feito, pelo menos em parte, “de graça” por esposas e mães, muitas vezes (e cada vez mais) suplementado pelo trabalho quase livre ou não livre de “outros” feminizados e racializados.8 Uma vez que os lucros no capitalismo são mediados pela diferença entre o custo de fazer trabalhadores e o valor de mercado da produção que seu trabalho produz, o custo da reprodução social – mantido baixo por meio da interseção do patriarcado e da supremacia branca – é fundamental. Como na produção de widgets, esse conjunto de custos, bem como quem os arca, é determinado por processos locais de gestão e controle. Ou seja, a família também tem um processo de trabalho que implica níveis particulares de extração, neste caso, mais fundamentalmente organizado por gênero e raça do que (diretamente) por meio de relações de classe. Isso coloca estruturas historicamente específicas de reprodução social no coração do capitalismo, uma estrutura contínua de acumulação primitiva que alimenta e define o próprio nível de acumulação.
Como outros elementos da acumulação primitiva, uma das características distintivas do trabalho reprodutivo é que ele não é “trabalho livre” no sentido definido por Marx.9 Uma característica fundamental do funcionamento do trabalho capitalista, ele defendeu, era que “o trabalhador abandona o capitalista que o contratou quando ele [o trabalhador] quiser…mas não pode abandonar toda a classe de compradores…sem renunciar sua existência”.10 Os trabalhadores são “livres” no sentido de que, diferentemente do escravo ou do servo, suas relações com qualquer capitalista individual é voluntária, mesmo que sua relação com a classe como um todo não seja. Entendida nesse sentido, a maternidade e outros elementos do trabalho das mulheres em lares heteronormativos não são “trabalho livre”. O trabalho está intimamente ligado a um determinado agente do patriarcado, e as expectativas culturais em torno da maternidade são inerentes ao ser mãe; não há escolhas envolvidas. Nesse sentido, nem a maternidade nem ser esposa são “trabalho livre”. Esse caráter não livre também obscureceu o trabalho em sua forma mercantilizada, já que a expectativa de “amor” como parte do que é comprado e pago faz com que os limites normais de horas de trabalho e a mobilidade geral do trabalho pareçam “insensíveis”.11 Mesmo quando pago, o trabalho é entendido como inerente à própria pessoa.
As teóricas do salário para o trabalho doméstico argumentaram que os salários poderiam fazer o trabalho doméstico ser entendido como trabalho. Embora elas tenham sido muito zombadas pelas implicações literais e gananciosas da frase que definia seu movimento, o objetivo delas era mais complexo do que parecia. O problema fundamental que elas identificaram foi que o trabalho reprodutivo foi codificado como uma espécie de emanação natural da feminilidade, e não como uma forma de trabalho. A resposta delas, argumentando a favor dos “salários”, não foi cobrar por hora, mas tornar o trabalho privado das mulheres visível por meio da linguagem do capital. Essa ferramenta ideológica era necessária, elas justificam, para responder à forma naturalizada assumida pelo trabalho privado das mulheres, em que o “trabalho doméstico” era apresentado como intrínseco ao ser mulher e então duplamente mistificado pela retórica do amor, que “mascara a face macabra da exploração”.12 Focadas nas famílias heteronormativas, na maternidade e heterossexualidade e no trabalho doméstico, elas argumentaram que as mulheres eram coagidas ou enganadas no trabalho desvalorizado de cuidar de suas famílias, com a proximidade de seus parceiros, mas, em última análise, a serviço de um sistema que se alimentava dos lucros gerados pela força de trabalho dessas mulheres como força geradora de lucros de seus próprios maridos. O objetivo das teóricas era romper com essa coerção sentimental e naturalizada e tornar o trabalho das mulheres visível como o trabalho que era.13
À medida que uma proporção crescente de mulheres de famílias brancas e heteronormativas se engajam no trabalho pago, alguém pode se perguntar se essa imagem anterior do papel familiar obrigatório das mulheres ainda se mantém. Afinal, a família normativa, branca e patriarcal do fordismo é história agora e, no neoliberalismo, é cada um por si. Nos Estados Unidos de hoje, quase 30% dos adultos vivem sozinhos.14 O protagonista do homo œconomicus do neoliberalismo é o empreendedor que assume riscos, por conta própria, calculando racionalmente seu interesse pessoal. E para que não pensemos que isso é apenas para os homens, o fim do bem-estar na década de 1990 foi legitimado, mesmo por feministas liberais mainstream, como justificado pela necessária e moderna “independência” das mulheres em relação aos homens e, por analogia, do Estado.15 Mas pense em uma pessoa que assume riscos, encontre a família! Especialmente quando o Estado recua, as famílias se tornam ainda mais essenciais.16 O infame comentário de Margaret Thatcher, “quem é a sociedade? Não existe isso! Existem homens e mulheres individuais”, é de fato seguido por outra frase, “e existem famílias…” Frequentemente deixada de fora, essa frase final é de fato um elemento essencial de seu argumento. O empreendedor arrogante e arriscado do neoliberalismo ainda tem uma rede de segurança secreta, a família atenta por trás, pronta para pegá-lo se ele cair.17
Notas
1 Karleigh Frisbie Brogan, “Calling Me a Hero Only Makes You Feel Better,” The Atlantic, April 18, 2020.
2 Ver especialmente Silvia Federici, O Calibã e a Bruxa: Mulheres, corpos e acumulação primitiva (São Paulo: Editora Elefante, 2017); Maria Mies, Patriarchy and Accumulation on a World Scale (London: Zed Books, 1986); Cedric J. Robinson, Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000); e Nikhil Pal Singh, “On Race, Violence, and So-Called Primitive Accumulation,” Social Text 34, no. 3 (September 2016): 27–50.
3 Karl Marx, “A assim chamada acumulação primitiva” in: O Capital: crítica da economia política, Livro 1 (São Paulo: Boitempo, 2013).
4 Rosa Luxemburgo, A acumulação do capital: contribuição ao estudo econômico do Imperialismo (São Paulo: Abril Cultural, 1984).
5 Para uma reanálise iluminadora da acumulação primitiva, ver Robert Nichols, Theft Is Property! Dispossession and Critical Theory (Durham, NC: Duke University Press, 2019).
6 David Harvey, “Neoliberalism as Creative Destruction,” The Annals of the American Academy of Political and Social Science 610 (March 2007): 22–44.
7 As primeiras teorizações incluem Leopoldina Fortunati, The Arcane of Reproduction: Housework, Prostitution, Labor and Capital (New York: Autonomedia 1996); Silvia Federici, O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista (São Paulo: Editora Elefante, 2019); Mariarosa Dalla Costa e Selma James, The Power of Women and the Subversion of the Community (London: Falling Wall Press, 1972), 21–56; Lise Vogel, Marxism and the Oppression of Women (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1983; Leiden, NL: Brill Academic Publishers, 2013); e Evelyn Nakano Glenn, “From Servitude to Service Work: Historical Continuities in the Racial Division of Paid Reproductive Labor,” Signs 18, n. 1 (Autumn 1992): 1–43. Mara sínteses mais recentes, ver Tithi Bhattacharya, “How Not to Skip Class: Social Reproduction of Labor and the Global Working Class,” Viewpoint Magazine 5 (October 2015); e Susan Ferguson e David McNally, introduction to Marxism and the Oppression of Women, by Lise Vogel, i–xl.
8 Glenn, “From Servitude to Service Work;” Evelyn Nakano Glenn, Forced to Care: Coercion and Caregiving in America (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010).
9 Karl Marx, “A compra e a venda de força de trabalho” in Capital Volume I, Capítulo 4 (São Paulo: Boitempo, 2013).
10 NT: tradução livre do trecho citado pela autora encontrado em: Karl Marx, “Wage Labor and Capital” in The Marx-Engels Reader, 2nd ed., ed. Robert C. Tucker (New York: W.W. Norton and Company, 1978), 205.
11 Cameron Macdonald, “Manufacturing Motherhood: The Shadow Work of Nannies and Au Pairs,” Qualitative Sociology 21:1 (1998); “Global Care Chains and Emotional Surplus Value” por Arlie Hochschild in Global Capitalism, editado por Will Hutton and Anthony Giddens (New Press, 2000).
12 Fortunati, The Arcane of reproduction, 28.
13 Federici, “Salários contra o trabalho doméstico (1975)”, in O ponto zero da revolução.
14 Esteban Ortiz-Ospina, “The Rise of Living Alone: How One-Person Households Are Becoming Increasingly Common around the World,” Our World in Data, December 10, 2019, https://ourworldindata.org/living-alone
15 Melinda Cooper, Family Values: Neoliberalism and the New Social Conservatism (New York: Zone Books, 2017).
16 Ver Caitlin Zaloom, Indebted: How Families Make College Work at Any Cost (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2019) para uma discussão maravilhosa sobre a forma como as dívidas ligam mais fortemente os filhos aos pais.
17 Para uma discussão mais completa desse argumento, ver see Leslie Salzinger, “Sexing Homo Œconomicus: Finding Masculinity at Work,” in Mutant Neoliberalism: Market Rule and Political Rupture, ed. William Callison and Zachary Manfredi (New York: Fordham University Press, 2019).
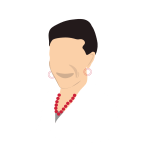

[…] Feminist Studies 47(3), que trazemos traduzido aqui em duas partes. A primeira pode ser lida aqui e a segunda está reproduzida […]
CurtirCurtir